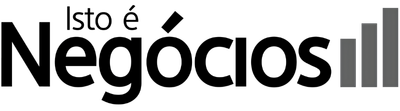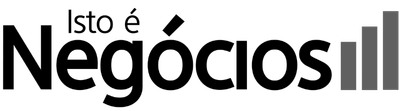A nova montagem de Jorge Farjalla, de “Ópera do Malandro”, faz o palco do Teatro Renault vibrar como um terreiro urbano, onde o texto de Chico Buarque de 1978 é incorporado. A Lapa dos anos 1940 perde qualquer nostalgia e se estabelece como uma junção de fios onde o sagrado do rito e o profano da sobrevivência se entrelaçam. A malandragem torna-se sabedoria muscular, um conjunto preciso de movimentos. O giro do quadril, a firmeza do olhar, o jeito de ocupar o espaço que define quem sobrevive e quem se perde no jogo.
A primeira declaração de intenções é silenciosa e vermelha. O famoso terno branco de Max Overseas, símbolo de uma ambiguidade elegante, é incendiado. No lugar, um vermelho vibrante veste José Loreto. Este não é um anti-herói charmoso, mas uma entidade do asfalto. O vermelho sinaliza exposição total, carne viva, a cor da negociação feita a céu aberto, do sangue que escorre no jogo do poder. Loreto joga Max como uma força da natureza, menos personagem e mais princípio energético: ele é Exu, o orixá das encruzilhadas, a energia do movimento e da troca, o operador necessário do sistema.
Aqui, o figurino de Farjalla e Ùga Agú faz sua jogada mais inteligente. O terno não é estático. Ele evolui, mancha-se, se desdobra. Em certo momento, o branco clássico reaparece, mas tingido de vermelho até a altura do peito, como se a violência do ofício tivesse subido pelo corpo, um “nivelamento por baixo” que macula sua pretensa pureza. Em outro, o paletó listrado em branco e vermelho transforma Max em um diagrama vivo da sua duplicidade, um código de barras humano traçando sua própria negociação entre os opostos. A malandragem é uma roupa que se veste, se suja e se adapta.
Se Max é o movimento, Geni é o território. E a escolha de Valéria Barcellos para o papel é uma correção de rota histórica. Barcellos desocupa o lugar da vítima lírica e o ocupa com a densidade de uma mulher trans e negra que conhece, na pele, o preço do apedrejamento metafórico e real. Seu momento de clímax, “Geni e o Zepelim”, é um golpe de encenação. Ela não a canta para a plateia; ela a despeja sobre ela, conclamando o público a cantar em uníssono o refrão “joga pedra na Geni”. É uma armadilha psicológica perfeita: forçar a audiência a vocalizar, com suas próprias vozes, o ódio social que a peça denuncia. O canto coletivo vira atestado de culpa.
E, num plano de fundo genial, a atriz Marina Mathey, também trans, performa a mesma canção em sincronia, como um duplo, um eco ou um espírito-guia. Essa duplicação tira a dor do lugar do singular e a torna coletiva. Não é mais o sofrimento de uma mulher, mas o ritual de resistência de uma comunidade. Geni se multiplica, tornando-se incontível.
Farjalla não tem medo do excesso. A encenação é um organismo híbrido que suga referências do cabaré brechtiano, do carnaval de rua e dos pontos cantados de Umbanda. As prostitutas de Duran (Ernani Moraes) se movem com a altivez de Pombagiras; a corrupção do Delegado Chaves (Amaury Lorenzo) tem a lógica burocrática de um despacho. A inovação está em não explicar a simbologia, mas em encarná-la. A narrativa de contrabando e trapaça se desenrola como um ritual, onde cada canção (reinventada com uma percussão radical e obscena por Gui Leal) é um passo nesse jogo.
Há o risco de estetizar a marginalidade, mas Farjalla escapa dele ao politizar a estética. A beleza das imagens, o frenesi da coreografia, o humor ácido, tudo serve a uma constatação áspera: o Brasil de 2026 ainda funciona pela lógica da “pirâmide malandra” descrita por Chico. Só que agora, a peça mostra que essa pirâmide não é apenas um sistema econômico, mas uma espiritualidade forjada na desigualdade.
Três perguntas para…
… Valéria Barcellos
Enquanto você performa no proscênio, Marina Mathey, também trans, duplica a ação ao fundo. Como surgiu essa ideia? Você vê nessa Geni dupla uma representação do espírito coletivo da resistência trans, uma espécie de orixá multiplicado que não pode ser apedrejado sozinho?
A ideia de duplicar Geni veio da cabeça fervilhante de Jorge Farjalla. Quem assiste percebe a duplicação, mas talvez não capte a sintonia fina: é a mesma pessoa, mostrada em diferentes tempos da sua própria vida. Enquanto eu, como Geni, entro cheia de mim e corajosa, a Marina entra fragilizada. Ao longo da cena, essa energia se inverte: no final, ela está forte, enfrenta a cidade, e eu fico completamente frágil.
O que a cena constrói, na verdade, é uma linha de tempo. É sobre a vivência das pessoas trans: nossos altos e baixos, nossa existência e, sim, nossa “morrência” também. É a demonstração da fragilidade e da força na mesma cena — e isso diz tudo sobre o que é existir como nós. No fim, somos uma só pessoa. O apedrejamento acontece sozinho. A duplicidade é da personalidade, da alma. Não é alguém para fazer companhia; é a força que nasce de dentro de si mesma.
Max Overseas opera na malandragem como um jogo de poder. Para a Geni que você constrói, a malandragem também é uma estratégia? Em um país transfóbico, quais são os “jeitinhos”, as astúcias e as negociações que um corpo trans precisa dominar para sobreviver?
Para a Geni que eu construí, não sei se ela opera com uma estratégia deliberada. Vejo mais alguém que percebeu na malandragem uma possibilidade de afeto que nunca teve, uma família que não conheceu, uma construção coletiva que sempre lhe foi negada. Talvez até seja uma estratégia, mas eu leio muito mais pelo campo do desejo do que por uma tática calculada.
Sobre nós, pessoas trans: acredito que construímos estratégias a vida inteira. Não lutamos apenas por estar nos lugares — lutamos para ser. “Estar” é uma coisa, e estamos de maneira tolerada, não plena. Talvez uma de nossas maiores estratégias seja justamente conseguir circular nesses lugares fingindo que somos queridas, quando, no fundo, só somos suportadas ali.
No fim, acho que nossa estratégia principal é muito mais urgente e bruta: é conseguir burlar o assassinato. É sobreviver. Essa sempre foi, e ainda é, a nossa estratégia fundamental.
Farjalla imbuiu a montagem com a energia de Exus e Pombagiras. Como você, pessoal e artisticamente, se conecta com essa espiritualidade? A Geni que você apresenta carrega algo de uma Pombagira – a entidade que rege a rua, a sexualidade marginalizada e a sabedoria de quem vive no limiar?
Sou de religião de matriz africana, então essa ligação é muito forte para mim. Um Orixá me cuida — minha mãe, Oxum. E também uma Pombagira que rege meus caminhos, que é a Maria Molambo. Essa espiritualidade tem uma conexão profunda com a figura do malandro, porque ambos habitam a rua, vivem nas margens. E para nós, artistas, também acabamos habitando esses dois lugares. Isso nos fortalece.
Na minha concepção, a Geni tem muito disso. Porque essas entidades, Exu e Pombagira, também regem o afeto e a sabedoria. Tem aquela frase célebre: “Exu acertou um pássaro hoje com uma pedra que jogou ontem”. Então existe toda uma sabedoria de esperar, de amadurecer pensamentos, desejos e vontades. E essa regência está muito presente ali.
A Geni se torna — com todo respeito às entidades reais — uma espécie de entidade do mesmo espectro, pela trajetória que tem, pelo fim que alcança. E quando está num palco, sendo representada quase 50 anos depois, acho que ela também carrega esse espectro. É como uma gira, com certeza.
Teatro Renault – av. Brigadeiro Luís Antônio, Bela Vista, região central. Sex., 20h. Sáb., 17h e 21h. Dom., 15h e 19h. Até 15/3. Duração: 120 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. A partir de R$ 25 (meia-entrada balcão popular) em ticketsforfun.com.br e na bilheteria oficial do teatro (sem taxa de conveniência)
Fonte ==> Folha SP